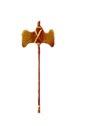
labrys, études
féministes/ estudos feministas
janvier /juin 2007 - janeiro / junho 2007
Coisas de Mulher: a tessitura da rede feminista no Sertão dos Tocós/BA
Zuleide Paiva da Silva[1]
Resumo
Reconhecendo a importância e a plurariladade dos movimentos de mulheres que tecem a rede feminista, este estudo faz uma breve reflexão sobre a formação e a atuação do Coletivo de Mulheres do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Conceição de Coité/BA, apontando o sindicato como o principal ator social na organização e articulação das trabalhadoras rurais da região.
Introdução
Vivemos numa sociedade em que as diferenças entre homens e mulheres foram transformadas em desigualdades sociais. Uma sociedade que submete as mulheres a uma posição de inferioridade, resultado da hierarquia estabelecida entre os gêneros.
Historicamente, as mulheres têm sido coisificadas, violentadas, agredidas, subjugadas e oprimidas. A opressão “bloqueia a capacidade das pessoas encontrarem os caminhos para mudar o mundo e a si mesmas, de modo que o oprimido pode nem sequer enxergar sua opressão” (BEAUVOIR, apud PASSOS, 2000: 44). A condição de subalternidade das mulheres tem sido explicada por diferentes estudos, em diversas áreas do conhecimento. As teorias com bases biológicas apresentam explicações a partir das diferenças sexuais e apontam a mulher como “segundo sexo” ou “sexo frágil”. Segundo Souza (2003, p.23), “o determinismo biológico vem sustentando argumentos biologizantes para desqualificar as mulheres, tanto do ponto de vista corporal, quanto intelectual”.
No marxismo clássico, a opressão feminina é vista como o “fruto da propriedade privada e do conseqüente papel de mero instrumento da reprodução que a mulher desenvolve dentro da família” (COSTA,1998: 20). Para Scott (1998: 5), “as teorias do patriarcado concentram sua atenção na subordinação das mulheres e encontram explicação na ‘necessidade’ do macho dominar as mulheres”. Essas são algumas das muitas explicações encontradas na literatura para a subalternidade da mulher. Em comum, todas elas mostram o “não-poder” das mulheres, o que, para nós, representa o principal fator de sua subjugação.
Mudar este cenário e transformar a mulher em sujeito da sua própria história tem sido um grande desafio para o movimento feminista, em toda a sua trajetória. No Brasil, o feminismo surgiu ainda no século XIX e se caracterizou como um movimento plural, dinâmico e atuante, que vem instaurando, ao longo dos anos, um processo gradual de incorporação da problemática das desigualdades de gênero como tema de debate e de políticas públicas nas agendas dos diversos governos.
Segundo Farah (2003), com base na plataforma de ações definidas na Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada em Beijing (China), em 1995, e na trajetória do movimento feminista e demais movimentos de mulheres, a agenda atual relacionada à questão de gênero no Brasil inclui importantes diretrizes, no campo de políticas públicas, nas áreas de violência, saúde, meninas e adolescentes, geração de emprego e renda e combate à pobreza, educação, trabalho, infra-estrutura urbana e habitação, questão agrária, dentre outras. Pode-se dizer que o Brasil hoje é mundialmente conhecido por iniciativas pioneiras e por importantes trabalhos compromissados com a promoção da equidade de gênero.
Em relação à violência contra a mulher, muitas foram as conquistas, a exemplo da criação de Delegacias Especializadas de Atendimento à mulher (DEAM), das Casas Abrigos, dos Conselhos de Defesa dos Direitos da Mulher, dos Centros de Referência, dos Núcleos de Estudo e de Pesquisa, de grupos e organizações-não governamentais que desenvolvem importantes projetos e ações de prevenção, atendimento especializado para mulheres em situação de violência e também para seus agressores, dentre tantas outras. Como afirma Guzmán (2000: 63), estas conquistas resultam de “um longo processo social e político em diversos cenários, com a participação de diferentes atores”.
A mesma autora ressalta que o reconhecimento da equidade de gênero como uma dimensão fundamental da equidade social sustenta-se, em grande medida, na visibilidade e legitimidade que o movimento de mulheres tem conseguido nos últimos anos. Sabemos, no entanto, que não se pode falar em “movimento de mulheres” no singular, mas em “movimentos de mulheres”, que surgem dos mais variados segmentos sociais e, juntos, participam da tessitura da rede feminista.
Nosso desejo de entender e participar da tessitura da rede feminista na Região Sisaleira, espaço onde atuamos como educadora, é o que aguça nosso olhar para o feminismo sindical, que se apresenta no Semi-árido baiano como um dos principais atores sociais, se não o principal, na construção dessa rede. Muitas questões nos intrigam: Que poder essas mulheres têm no sindicato? Participam de cargos de direção ou são meras coadjuvantes? Como elas se percebem enquanto mulheres? Quais as fontes de informação que alimentam essas mulheres? Quais são os canais de comunicação/informação utilizados por elas na construção da rede feminista? Muitas são as perguntas, poucas são as respostas. A história do feminismo na Região Sisaleira e da militância dessas mulheres ainda não foram contadas.
Reconhecendo a importância do feminismo sindical em Conceição do Coité/BA, este trabalho, sem a pretensão de apresentar respostas e/ou conclusões, faz uma breve reflexão sobre a formação e a atuação do Coletivo de Mulheres do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Conceição do Coité/BA. A fonte que alimentou essa reflexão, além das leituras sobre o tema, foram as longas conversas informais com as lideranças feministas do referido sindicato. Após participar de algumas reuniões promovidas por essas mulheres e de desenvolver trabalhos em parceria com elas, este é nosso primeiro olhar para um pequeno, mas importante nó da rede tecida, uma parcela de mulheres que lutam pelo empoderamento das sisaleiras. O conceito de empoderamento aqui utilizado é dado pelo movimento feminista e “compreende a alteração radical dos processos e estruturas que reduzem a posição de subordinação das mulheres como gênero” (COSTA, 2005: 7). Nesta perspectiva, através da tomada de decisões coletivas e mudanças individuais, a mulher empoderada tem consciência das suas habilidades e competências para controlar e gerir sua própria vida. Assim, esse estudo se caracteriza como uma cartografia inicial. O primeiro olhar, os primeiros pensares sobre a temática.
Mulheres sertanejas em movimento...
É uma paragem impressionadora.
As condições estruturais da terra lá se vincularam à violência máxima dos agentes exteriores para o desenho de relevos estupendos [...].
É uma sugestão empolgante.
Vai-se de boa sombra com um naturalista algo romântico imaginando-se que por ali turbilhonaram, largo tempo, na idade terciária, as vagas e as correntes [...]
(CUNHA, 1979: 13)
O semi-árido baiano ainda é um espaço brasileiro pouco conhecido, apesar da sua beleza e potencial. Segundo Neiva (2000), o desconhecimento total ou parcial da realidade do Sertão Nordestino provoca nas elites políticas, militares e intelectuais uma profusão de sentimentos, visões e incompreensões, a exemplo do medo, da vergonha, do descaso, da insensibilidade, do espanto, da intolerância e do horror.
Para este autor, a pobreza resultante da má distribuição de renda, as precárias condições sanitárias, o baixo nível de escolarização e as limitações dos governantes locais tornam esse espaço o mais problemático do país e, conseqüentemente, o mais privilegiado para equívocos.
É no Semi-Árido baiano que se localiza Conceição do Coité, uma região também conhecida por Sertão dos Tocós. De acordo com o levantamento feito em 2003 pela FATRES — Fundação de Apoio aos Trabalhadores Rurais da Região do Sisal, Conceição do Coité tem 56.318 habitantes, sendo 28.209 homens e 28.109 mulheres. Esta gente sertaneja é diferente de toda a gente. O sertanejo, já nos disse Euclides da Cunha, durante suas andanças pelo sertão nordestino,
é, antes de tudo um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral [...] É desgracioso, desengonçado torto[...]. É o homem permanentemente fatigado. [...]
Entretanto, toda essa aparência de cansaço ilude.[...] O Homem transfigura-se. Empertiga-se, estadeando novos relevos, novas linhas na estatura e no gesto; e a cabeça firma-se lhe, alta, sobre os ombros possantes, aclarada pelo olhar desassombrado e forte; e corrigem-se-lhe, prestes, numa descarga nervosa instantânea, todos os efeitos do relaxamento habitual dos órgãos; e da figura vulgar do tabaréu canhestro, reponta, inesperadamente, o aspecto dominador de um titã acobreado e potente, num desdobramento surpreendente de força e agilidade extraordinárias.
Este contraste impõe-se ao mais leve exame. Revela-se a todo o momento, em todos os pormenores da vida sertaneja (CUNHA, 1979: 81, grifo nosso)
O homem sertanejo é, antes de tudo, um lutador. Mas ele não luta sozinho. Parafraseando o autor acima citado, ao lado do sertanejo, quase invisível, tem uma mulher que também “conhece os horrores da seca e os combates cruentos com a terra árida e exsicada”. Assim como o homem, a mulher sertaneja conhece “as cenas periódicas da devastação e da miséria” e não se apavora com o “quadro assombrador da absoluta pobreza do solo calcinado, exaurido pela adustão dos sóis bravios do Equador”. Ainda parafraseando o autor, a sertaneja também fez-se mulher, quase sem ter sido criança. Fez-se forte, esperta e prática (Cunha, 1979: 83).
Mas sua força e coragem ainda não modificaram a sua condição de subalternidade, de exploração e violência. A mulher sertaneja continua castigada pela própria vida, enquanto o poder público não a reconhece como sujeito e quase não lhe oferece oportunidades de mudança. Esta condição, sabemos, não é exclusiva da mulher sertaneja. Mulheres nos quatro cantos do mundo são individualmente invisíveis. Para superar esta situação e fazer justiça é necessário, pois, como precondição, a organização coletiva e a participação política da mulher, ou seja, é preciso um “movimento” da mulher.
Num rápido olhar no cenário nacional, verifica-se que os anos 70 e 80 marcam um momento de organização coletiva, negociações, lutas e conquistas dos movimentos sindicais e sociais, e as mulheres se fizeram presentes. Nesse período, surge o Partido dos Trabalhadores (PT) e a Central Única dos Trabalhadores (CUT). O imobilismo das tradicionais organizações sindicais, que tinham sido moldadas por uma legislação autoritária, é superado e os sindicatos de cunho combativo ganharam força.
O movimento operário formula reivindicações trabalhistas e emerge uma multiplicidade de lutas de resistência, de movimentos de boicote e de paralisações nos estabelecimentos industriais. As mulheres urbanas lideraram vários movimentos, a exemplo do Movimento Nacional contra a Carestia, em 1968, Movimento de luta por creche, em 1970, Movimento Brasileiro pela Anistia, em 1974, entre outros. No interior dos sindicatos, urbanos e rurais, por um lado, as trabalhadoras discutiam questões referentes ao trabalho, como a desvalorização do salário, segregação ocupacional, ausência de infraestrutura de assistência à trabalhadora gestante, e por outro, discutiam questões relacionadas à participação sindical das mulheres. (CAPPELLIN, 1994).
No Território Sisaleiro, a articulação da sertaneja também se dá através do movimento sindical, que se apresenta como forte semente de mobilização social. As lideranças sindicais que se identificavam com o Partido dos Trabalhadores, para formar um novo sindicalismo de cunho mais combativo, buscaram base de apoio na zona rural e encontraram nas sertanejas fortes aliadas. Uma vez que a única forma de instalar um sindicato combativo na região seria através de eleições, pois a legislação existente só permitia a criação de um sindicato de uma mesma categoria profissional por município, as trabalhadoras rurais da região inseriram-se na campanha para eleger novos representantes sindicais comprometidos com as questões sociais e com a melhoria na zona rural[2].
Em Conceição do Coité/BA, o principal ator social a tecer a rede feminista tem sido o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que aparece para a sociedade como
Sujeito coletivo, produtor e catalisador de uma imagem social dos trabalhadores, mobilizador de anseios por mudanças, formador de demandas, constituindo-se como negociador junto a outros atores sociais. Sujeito coletivo também por ter a capacidade de formar e expressar um sentimento de solidariedade, como princípio que reúne, permeia a aproximação entre pessoas, que motiva a aglutinação, que chega a fortalecer um projeto de união e de consenso no interior de uma classe trabalhadora (PIZZORNO, A, 1993, citado por CAPPELLIN, 1994: 173)
A rede feminista pode ser significada a partir do entendimento de rede. Tomamos aqui o conceito de rede que nos é passado pelo guia de apoio à construção de redes de serviços para o enfrentamento da violência contra a mulher, intitulado Vem pra roda, vem pra rede. De acordo com esse guia, reconhecido como uma importante fonte de informação para os diversos movimentos de mulheres, a rede entendida:
como atuação articulada entre diversas instituições, organizações e grupos que já realizam ou possam realizar ações voltadas para a erradicação do problema. Para que essa atuação articulada aconteça, é necessário intenção, vontade compromisso e estratégias bem concretas que criem essa costura firme e forte entre os atores sócias (CARREIRA; PANDJIARJIAN, 2003:18).
Um marco na tessitura dessa rede em Conceição do Coité é a luta das trabalhadoras rurais pela sindicalização, uma vez que estas trabalhadoras enfrentaram forte oposição para sua participação formal no sindicato, tanto na condição de membros da direção, como na condição de sócia. Apesar da moção de apoio à sindicalização feminina proposta pelas trabalhadoras rurais, no IV Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais, em 1985, as trabalhadoras da região eram percebidas como mulheres, filhas, irmãs de agricultores rurais, mas não como agricultoras ou trabalhadoras rurais. Como ressalta uma das primeiras sindicalizadas do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Conceição do Coité “a carteira do marido servia para a mulher[3]”. Apesar das resistências dos companheiros, no final da década de 80 as trabalhadoras rurais de Conceição de Coité/BA puderam se sindicalizar e receber carteira de sócia, independente do seu estado civil.
Mas a inclusão dos assuntos femininos na agenda do sindicato também sofreu resistência. As sertanejas sentiram bem de perto, pelos próprios companheiros, a desigualdade de gênero. Mas elas não se intimidaram e forçaram o exercício da representação nas instâncias do sindicato. Assim, apesar da resistência de alguns, num cenário político onde o combate à pobreza e à exclusão deram o tom da marcha, em 94 foi criada a Comissão de Mulheres do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Conceição do Coité/BA, com o objetivo de “discutir coisas de mulher[4]”, como nos diz a fundadora da Comissão.
As discussões sobre “coisas de mulheres”, que giravam em torno de questões como documentação, auxílio doença, aposentadoria e salário maternidade, eram incentivadas pelo então presidente do sindicato, que apoiava a luta para mudar a tradicional imagem da trabalhadora rural desrespeitada, negligenciada, calada e invisibilizada. Além do apoio e incentivo do presidente do sindicato, a Comissão encontrou no MOC – Movimento de Organização Comunitária, um grande parceiro.
Buscando fomentar a organização e o fortalecimento de grupos de mulheres trabalhadoras rurais para a promoção dos seus direitos civis, políticos, sociais e econômicos, a equipe de gênero do MOC encontrou na Comissão de Mulheres do Sindicato um espaço de discussão e busca de soluções para questões relacionadas ao universo feminino.
Assim, apoiada pela presidência do sindicato e assessorada pelo MOC, a Comissão se fortaleceu internamente. Os companheiros do próprio sindicato e de outros movimentos sociais perceberam que a “mulherada” estava se movimentando muito, se envolvendo muito, viajando muito, com suas agendas sempre cheias. Isso provocou a desconfiança, o ciúme e também o preconceito em alguns deles. Ouso dizer que o movimento e o crescimento das mulheres provocam nos homens o medo de perder espaço público para elas.
Movimentando-se e movimentando o Sertão, a Comissão de Mulheres do sindicato, sempre incentivada e apoiada pelo MOC, em 1997 virou Movimento de Mulheres do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Conceição do Coité/BA. Como as demais brasileiras, as mulheres do Movimento faziam parte do exército mencionado pela ONU dos “trabalhadores que mais trabalham no mundo”, com tripla jornada de trabalho. Lutando pela emancipação da mulher trabalhadora da zona rural, esse Movimento adentrou o sertão. É provável que tenha percorrido as mesmas estradas e os mesmos arraiais por onde Euclydes da Cunha passou e encontrou mulheres fragílimas, “tendo ao colo crianças engelhadas como fetos, seguidas dos filhos menores, de seis a dez anos” (CUNHA, 1979: 349) Mas as militantes do Movimento tinham consciência da força da mulher sertaneja. Por onde passavam, levavam a solidariedade feminina e uma palavra de consolo àquelas que, na vida cotidiana, enfrentavam grandes desigualdades.
Discutindo questões como o respeito à mulher e a valorização do trabalho feminino, as militantes plantavam a semente da cidadania e instigavam as trabalhadoras a se organizarem e lutarem pelos seus direitos, como única forma de alcançar a emancipação, e, conseqüentemente, o empoderamento/auto-reconhecimento e a cidadania, entendida aqui como “[...] a capacidade dos indivíduos de participar na organização do Estado e sociedade, contribuindo na elaboração de políticas públicas capazes de concretizarem os direitos formais” (BARSTED, 1994, citada por AQUINO, 2002: 219)
Em 2000, o Movimento de Mulheres do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Conceição do Coité/BA, aspirando ser uma organização igualitária e democrática, lutando pela emancipação das participantes, mudou de nome. Tornou-se Coletivo de Mulheres do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Conceição do Coité/BA. Essa mudança foi incentivada e orientada pela presidência do Sindicato, mas não teve o apoio do MOC. Acreditamos que muito mais que uma mudança de nome, nesse momento se deu uma firmação do discurso sindical, pois, no mesmo período, o Sindicato criou a Secretaria de Mulher, que passa a ser a responsável pela capacitação e formação de novas lideranças nas questões de gênero, atividade que até então era desenvolvida pelo MOC.
A principal inovação deste Coletivo foi a abertura para a inclusão da trabalhadora urbana nas discussões, o que tornou possível a ampliação de entidades parceiras, a exemplo da Universidade do Estado da Bahia, através do seu Departamento de Educação, Campus XIV, que desde 2004 tem desenvolvido ações conjuntas com o Coletivo. Mas o Coletivo continua “ligado” ao Sindicato, como “órgão de apoio” da Secretaria de Mulher. Por não ser uma entidade independente, não tem associadas, mas toda trabalhadora pode “fazer parte do Coletivo”, desde que participe de três reuniões consecutivas, que tenha freqüência regular nas reuniões e que tenha uma “atuação na comunidade”. Essa atuação na comunidade pode ser entendida como a participação em algum movimento social ou, o desenvolvimento de algum trabalho voltado para o bem estar social.
Apesar da abertura, poucas são as trabalhadoras urbanas atuantes no Coletivo. A liderança e a organização do Coletivo de Mulheres está nas mãos das trabalhadoras rurais, com vistas à sua emancipação. Sua estrutura é baseada em princípios democráticos, que levam em conta a vida cotidiana e o pragmatismo da trabalhadora rural. Grande parte das militantes são chefes de família. Algumas têm marido, outras tiveram maridos que foram embora, levando sonhos perdidos e deixando filhos necessitados. Mas todas elas são mulheres que têm consciência do papel que ocupam e da importância do trabalho de empoderamento/ fortalecimento de si mesmas e das demais companheiras, ampliando assim a inserção social das mesmas.
O cenário de atuação do Coletivo não é o mesmo em que a Comissão de Mulheres do sindicato atuou. Muitas foram as modificações. O Território do Sisal, espaço de atuação do Coletivo, tem chamado a atenção de diferentes instituições e grupos sociais pela sua capacidade de organização e mobilização social e pela sua capacidade de promover e gerir políticas públicas[5]. Muitos são os projetos sociais desenvolvidos com êxito na região, a exemplo do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, Baú de Leitura, Programa Mil Cisternas, entre tantos outros. Porém, o cenário continua sendo um espaço onde predomina a pobreza, o baixo nível de escolaridade e o descaso público. Não são conhecidos no município políticas ou programas do governo local que incluam a temática de gênero.
Desde 1998, a principal bandeira do Coletivo é a implantação da Delegacia de Atendimento Especial à Mulher. Uma luta que tem se mostrado infindável/permanente, como a luta pela própria sobrevivência no sertão.
As delegacias da mulher são órgãos especializados da Polícia Civil, criados na década de 80 como política pública para combater a violência contra as mulheres dando um atendimento mais adequado às mulheres em situação de “violência doméstica” e aquelas vítimas de violência sexual. A primeira Delegacia da Mulher foi criada na cidade de São Paulo, em 1985. Ao longo dos anos 80-90, elas foram sendo instaladas em todas as grandes cidades brasileiras, totalizando hoje 340 Delegacias Especializadas de Atendimento às Mulheres (DEAM), uma quantidade irrisória, quando se constata que existem no Brasil 5550 municípois[6].
Segundo Rifiotis, a Delegacia da Mulher é
Uma instituição sui generis, setor especializado do serviço da Polícia Civil de cada estado e é, tipicamente, polícia judiciária, o que equivale a dizer que ela atua como correia de transmissão entre os serviços de polícia e o sistema judiciário. O seu objetivo maior é, portanto, a instrução dos inquéritos policiais que levarão ao judiciário as queixas-crimes para julgamento (2004:6).
A criação das Delegacias de Proteção à Mulher em todo o país é o resultado do trabalho político feito pelo movimento feminista que publicizou a violência contra a mulher, questionando e denunciando os crimes cometidos em “defesa da honra”, evidenciando assim, as desigualdades dos lugares ocupados por homens e mulheres (AQUINO, 2003). De acordo com a pesquisadora do NEIM — Núcleo de Estudos Interdisciplinares da Mulher,
[...] a abertura política [década de 70] é o contexto no qual está inserida a mobilização pela publicização da violência contra a mulher e elaboração de uma forma de se combater o problema e a discussão com o Estado sobre a implementação [de delegacias de proteção à mulher] (AQUINO, 2003: 221).
Mas no Território Sisaleiro ainda não foi possível o diálogo com o Estado, representado pelo poder municipal (cabe ao Legislativo propor e aprovar a criação da delegacia e ao governo do estado implantá-la, como todos os equipamentos de Segurança Pública). A relação com o governo local, que se mostra indiferente às demandas dos movimentos sociais, é estéril. Por mais que as mulheres do Coletivo apontem para os governantes locais a necessidade de “um novo olhar” para perceber que a desigualdade entre homens e mulheres em nossa sociedade se reflete em pequenas e grandes discriminações e em diferentes formas de violência contra a mulher, o que conseguiram foi que a delegacia local passasse a registrar os casos de violência contra a mulher em livro específico e que as notificações ao agressor deixassem de ser entregues pela própria vítima e ficassem ao encargo de um agente de polícia. Sem dúvida, a formalização da denúncia foi uma conquista importante. Foi o “primeiro passo” para a institucionalização da Delegacia desejada.
Apesar de todas as dificuldades encontradas na interação com o Estado para a implantação da delegacia de proteção à mulher, o Coletivo não desiste. Adentra o Território Sisaleiro, discutindo as diversas formas de violência contra a mulher em oficinas, seminários e reuniões de base. Em 2004, buscou parceria com o Departamento de Educação, Campus XIV, que tem forçado um “canal” de comunicação com o governo municipal e incentivado a discussão em torno da temática com os demais segmentos da sociedade civil organizada.
O envolvimento da Universidade alarga as esperanças do Coletivo de ver concretizada a institucionalização da delegacia especial, porém, não sem o receio de ver a apropriação do Estado de um projeto,que é fruto de uma reflexão e trabalho coletivo e que extrapola os limites municipais ou estaduais, como ocorreu com a implantação da DEAM de Salvador[7]. Enquanto esse sonho não se realiza, a sertaneja naturaliza a violência e convive cotidianamente com seus agressores, que têm, como mostra o destaque na nota de Euclides da Cunha, citada anteriormente, “o aspecto dominador de um titã acobreado e potente, num desdobramento surpreendente de força e agilidade extraordinárias”.
Outra importante bandeira levantada pelo Coletivo é a articulação de grupos de produtoras da região com o objetivo de promover a economia solidária, ou seja, promover ações que possibilitem novas oportunidades de inserção social pelo trabalho para a mulher (rural e urbana). Nessa perspectiva, entre 2004 e 2005, o Coletivo promoveu a criação de grupos de produtoras, que se organizam por localidade, a exemplo de Salgadalia, Onça, Serrote, entre outras, e por produto (artesanato e alimentação).
O principal papel do Coletivo junto aos grupos de produtoras é intermediar a capacitação e a inserção desses grupos nas redes de produtoras já consolidadas como a Rede de Produtoras da Bahia, que é uma articulação de 13 empreendimentos solidários formados exclusivamente por mulheres, ou na Arco- Sertão, Agência Regional de Comercialização do Sertão da Bahia, que tem como objetivo comercializar diretamente os produtos da agricultura familiar, bem como promover contatos de negócios dos empreendimentos solidários associados.
Quase todas as produtoras que participam do Coletivo são moradoras da zona rural, muitas delas também trabalham na agricultura, mas não são sindicalizadas e não são reconhecidas como trabalhadoras rurais. Mas todas elas reconhecem o papel de “intermediário” em toda a articulação e organização das mulheres trabalhadoras que o sindicato desenvolve. Reconhecem também que a intermediação do sindicato tem sido importante para a valorização do trabalho feminino e para o empoderamento da trabalhadora rural na região. O envolvimento com o sindicato tem provido essas trabalhadoras de base ideológica para interpretar a realidade e conhecer a linguagem dos direitos sociais. Elas sabem que as atividades que desenvolvem, seja na manutenção da propriedade ou como produtoras rurais, têm valor econômico, e que este valor é a base para a emancipação da mulher. Pela reflexão, as trabalhadoras aprendem a fazer uma nova leitura de suas vidas e existências, e na prática vão tecendo a rede feminista no Sertão dos Tocós/BA.
Considerações finais
O envolvimento sindical tem oportunizado às mulheres trabalhadoras rurais do Sertão dos Tocos/BA uma reflexão sobre sua condição de subalternidade imposta pela sociedade patriarcal. A participação em encontros nacionais feministas, os encontros de articulação em torno do 8 de março e as freqüentes oportunidades de intercâmbio entre mulheres de diferentes segmentos sociais incentivam a proliferação de visões feministas.
A participação no movimento sindical representa para as trabalhadoras rurais da região o reconhecimento da sua capacidade política. Essas conquistas obtidas estimularam nessas mulheres um processo de auto- realização que se trata da satisfação das suas próprias necessidades de mulher e que as levam à participação da cidadania. Na convivência, elas vão desenvolvendo e adquirindo uma identidade feminina alternativa, em que experimentam o direito e a capacidade de decidirem sobre suas próprias vidas. Os problemas pessoais, tornam-se problemas de todas, tornam-se “coisas de mulher”. Coletivamente as trabalhadoras rurais de Conceição do Coité/BA seguem construindo sua cidadania e sua história como sujeitos políticos, cientes de sua importância como mulheres e como agricultoras.
Referências bibliográficas
BARSTED, Leila de A. L. 1994. Violência contra a mulher e cidadania: uma avaliação das políticas públicas. Cadernos CEPIA, Rio de Janeiro, 1994.
de BEAUVOIR, Simone.1983. O segundo Sexo. São Paulo: Nova Fronteira, 1983. 2v.
CAPPELLIN, Paula. 1994. Viver o sindicalismo no feminino. Revista Estudos Feministas.(n. especial), Rio de Janeiro: CIEC, 1994, p. 271-290.
CARREIRA, D.; PANDJIARJIAN, V. 2003. Vem pra roda! Vem pra rede!: guia de apoio à construção de rede de serviços para o enfrentameno da violência contra a mulher. São Paulo: rede Mulher de Educação, 2003.
COSTA, Ana Alice Alcantra. 1998. As donas do poder: mulheres e política na Bahia. Salvador: NEIM/UFBA, 1998.
__________. 2005. Gênero, poder e empoderamento das mulheres. 2005. Disponível em:<http://www.agende.org.br/docs/File/dados_pesquisas/feminismo/Empoderamento%20-%20Ana%20Alice.pdf> Acesso em: 15/02/2006.
CUNHA, Euclydes. 1979. Os Sertões. 29.ed. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves; Brasília: INL, 1979.
FARAH, Marta Ferreira dos Santos. 2003 Políticas públicas e gênero. São \Paulo, 2003. Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidadania/conselhos_e_coordenadorias/
coordenadoria_da_mulher/Politicas_Genero_2.pdf.> Acesso em 12/02/2006
FUNDAÇÃO DE APOIO AOS TRABALHADORES RURAIS DA REGIÃO DO SISAL. 2003. Programa Produzir:uma experiência de controle social em Municípios do Semi-Árido baiano. Valente,Ba.:FATRES, 2003.
GUZMÁN, Virgínia. A equidade de gênero como tema de debate e de políticas públicas. In: FARIA, Nalu et al. (orgs.). 2000. Gênero nas políticas públicas. São Paulo: SOF, 2000. p. 63-86.
NEIVA, Luiz Paulo. 2000. A intervenção do Estado no desenvolvimento local: o caso de Canudos: Açude Cocorobó. Cruz das Almas,Ba. 2000. Dissertação. (Mestrado). Universidade Federal da Bahia, 2000.
PASSOS, Elizete. 2000. O existencialismo e a condição feminina. In: MOTTA, Alda B.; SARDENBERG, C.; GOMES, M. (orgs). Um diálogo com Simone de Beauvoir. Salvador: NEIM/UFBA, 2000. p.39-48.
RIFIOTIS, Theophilos. 2003. As Delegacias Especiais de Proteção à Mulher no Brasil e a « judicialização » dos conflitos conjugais. Disponível em http://www.cfemea.org.br/pdf/delegaciasespeciais_theophilossaffioti. pdf> Acesso em fev.2006.
SCOTT, Joan W. 1995. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação & Realidade, Porto Alegre, n. 20, v.2, p. 71-100, jul./dez. 1995.
SOUZA, Ângela Mª Freire de Lima e. Sexo e identidade: biologia não é destino. In: FAGUNDES, Tereznha C. P. Carvalho (Org.). 2005 Ensaios sobre educação, sexualidade e gênero.Salvado: Helvécia, 2005.
CARREIRA, Denise; PANDJIARJIAN, Valéria. 2003. VEM pra roda! Vem pra rede: guia de apoio à construção de rede de serviços para o enfrentamento da violência contra a mulher. São Paulo: Rede Mulher de Educação, 2003.
[1]Bacharel em Biblioteconomia e Documentação, pela Universidade Federal da Bahia e licenciada em Letras e Mestre em Gestão Integrada das Organizações, pela Universidade do Estado da Bahia. Professora Assistente do Departamento de Educação, Campus-XIV, da Universidade do Estado da Bahia. Coordenadora do Curso Especial de Letras, oferecido pela Universidade do Estado da Bahia, em parceria com o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária/PRONERA.Interessada em estudos sobre as relações de gênero e violência contra a mulher, coordena o projeto “Consciência Coletiva: homens e mulheres combatendo a violência contra as mulheres na Região Sisaleira-BA”. Pesquisadora do Diadorim – Núcleo de Gênero e Sexualidade da Universidade do Estado da Bahia, onde desenvolve pesquisa sobre a violência contra a mulher. Atua junto aos movimentos feministas de Salvadora/Ba.
[2] Informação verbal obtida em fev. 2006
[3]Informação verbal obtida em fev.2006
[4] Informação verbal obtida em fev.2006
[5] No período de 19 a 21 de janeiro de 2006, o Território do Sisal recebeu visita da Rede Latino-americana e do Caribe de Seguridade Alimentar e Desenvolvimento Sustentável/REDLAYC para conhecer as experiências exitosas do território em relação à gestão de políticas públicas e à segurança alimentar.
[6] Revista Veja, n.10, 15 março, 2006.
[7] A DPM de Salvador foi criada em 28 de abril de 1986. Porem de acordo com Aquino (2002, p. 221), “a forma como o governo absorve a proposta do movimento frustra as feministas, que ficam sabendo da assinatura do decreto pelos jornais [...]
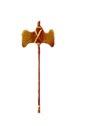
labrys, études
féministes/ estudos feministas
janvier /juin 2007 - janeiro / junho 2007