![]()
labrys, études
féministes/ estudos feministas
janvier/juin 2010 -janeiro/junho 2010
Autobiografia nas artes visuais:
Feminismos e reconfigurações da intimidade
Luana Saturnino Tvardovskas
Resumo
Este texto aborda a produção artística de mulheres, sobretudo as surrealistas Leonora Carrington e Remedios Varo, assim como artistas mais jovens como a inglesa Tracey Emin e as brasileiras Rosana Paulino e Ana Miguel. Busca compreender como há uma utilização de elementos autobiográficos em suas obras de arte que evocam sentidos críticos, em muito conectados ao pensamento feminista.
Palavras chave autobiografia, mulheres artistas, ética, intimidade e subjetividade.
Pretendo, nas próximas páginas, abordar um aspecto da produção artística contemporânea, a saber, a utilização de elementos autobiográficos em instalações, pinturas, literatura e performances de mulheres artistas. Interessa-me aqui observar como esse é um campo que formula críticas culturais contundentes, sobretudo por problematizar esferas historicamente consideradas “femininas”, como a memória, a casa e o corpo. Tais imagens artísticas conectam-se com críticas feministas contemporâneas, como a descontrução das identidades sexualmente hierarquizadas, as disputas pela revisão do passado escravocrata e patriarcal do Brasil, assim como uma dissolução da dicotomia entre o espaço público e privado (RAGO, 2003). Deste modo, elegem-se aqui obras inquietantes e disruptivas, que confrontam os enunciados firmados socialmente e promovem “linhas de fuga” para as políticas de subjetivação estabelecidas (DELEUZE e GUATARRI, 1995).
Objetos biográficos como diários, fotografias, agendas, roupas, cabelos, livros – elementos de uma história pessoal - são ressignificados pelas mulheres artistas e compõem as mais diversas obras. A arte possui grande potencial de transformação da experiência vivida, sendo um dos campos profícuos para a criação de modos de viver mais intensificados e livres – tão urgentes perante os fascismos cotidianamente experimentados nos dias de hoje (RAGO, 2009). É justamente sobre essa capacidade da arte de ativar esferas do sensível - compreendida como a possibilidade de liberação de padrões de recalque das emoções, da criatividade, da sensibilidade - que essa problemática investe (GUATARRI e ROLNIK, 1989).
Abordarei algumas obras de Leonora Carrington e Remedios Varo, duas artistas surrealistas, bem como obras de artistas mais jovens como a inglesa Tracey Emin e as brasileiras Ana Miguel e Rosana Paulino. Pretendo explorar elementos de uma radicalidade política e ética, a meu ver, profundamente marcada pelo debate feminista, crítico do esvaziamento da experiência e da subordinação das esferas femininas da existência. Em suas poéticas visuais, há uma desintegração de corpos e de elementos tipicamente íntimos e privados. As marcas do vivido, aí, conjugam-se a problemáticas culturais, imprimem sensações e conceitos e propõem caminhos diferenciados para a constituição das subjetividades, na atualidade.
- Narrar a si mesmo: uma tradição do individualismo moderno
Tradicionalmente, a autobiografia é tomada como um projeto de elaboração consciente de um sujeito sobre a sua própria existência. Por meio da escrita, constrói-se, mesmo que de modo incompleto, um discurso que pretende ser a verdade sobre si, sobre as experiências vividas, sobre o passado. De qualquer modo, tal projeto é sempre inconcluso, posto que o indivíduo que escreve sobre si mesmo abarca - a partir de certas cronologias, seleções e prioridades - fatos de sua vida até o presente momento, não podendo contemplar o seu futuro ou rememorar claramente o passado. A autobiografia, mesmo respondendo a diferentes propósitos, expressa um desejo de escrever a vida, de criar linhas de sentido para existências móveis e fragmentadas (MIRAUX, 2005: 14).
Como gênero, considera-se que a autobiografia funda-se com o texto de Rousseau, no fim do século XVIII (MIRAUX, 2005: 19). Ele sofre modificações e usos diversos, mas mantém o sentido da anamnésis, de uma evocação voluntária do passado. Os diários íntimos, segundo Jean Philippe Miraux, escritos em segredo e sem pretensões de publicação, seriam um viés da escrita do eu, embora não proponham uma totalidade de vida como projeto, como no caso da autobiografia. São instantâneos, instantes de anunciação, impressões, perceptos, recordações. Outro elemento de uma escrita do eu seriam os ensaios, que como gênero também limítrofe à autobiografia, estariam mais interessados nas experiências e episódios da existência do que em relatos de uma vida (MIRAUX, 2005: 17).
Os principais estudiosos da literatura de si mesmo – Georges Gusdorf, Philippe Lejeune, entre outros -, destacam como referências históricas principais para emergência dessa prática de escrita o exame de consciência e o exame de si mesmo (MIRAUX, 2005: 25). Em resposta ao questionamento “Quem sou?” e à indicação “Conhece-te a ti mesmo”, a tradição platônica é retomada por Montaigne, que a transforma numa exploração de si. O desejo de colocar a vida por escrito emerge conjuntamente com a criação do moderno sentido de individualismo, onde aquele que escreve sobre si segue regras precisas, como o pacto de verdade com o leitor, além de um compromisso com uma suposta transparência perante seu passado (MIRAUX, 2005: 19). Tal perspectiva está embebida dos conceitos morais cristãos, sobretudo da tarefa confessional – onde o sujeito deve investigar a si mesmo, como meio de produzir uma liberação e purificação.
A pensadora Leonor Arfuch, investigando as interelações entre memória, espaço e tempo – por meio do conceito de “espaço biográfico” - destaca a confluência de fatores que contribuiram para a ascensão da intimidade, também inspirada pelas reflexões de Hannah Arendt.
Si bien podríamos reconocer en algún período de la antiguedad griega o en la familia romana lejanos ancestros de lo que hoy llamamos intimidad, su sentido cabal sólo aflora en el siglo XVIII, con el afianzamiento del individualismo y el mundo burguês. (...) Así enriquecida, la esfera privada deja de tener su vieja connotación de privación – el estar desprovisto de algo – para asumir la doble función de cobijar lo doméstico, el hogar - “tangible” – y de proteger lo íntimo – “intangible” – del asedio de una sociedad donde cada vez se tornan más rígidas las normas de conduta (ARFUCH, 2005: 240).
Esse é o sentido estabelecido da tradição autobiográfica, muito conhecido em nosso tempo, na qual a primeira pessoa encarrega-se da enunciação num esforço de busca da verdade em seu interior. Em contrapartida, Michel Foucault pesquisando na Antiguidade greco-romana experiências de constituição subjetiva diferenciadas, aborda como a escrita de si nessas sociedades ocupava um espaço profundamente diverso e estranho a nós. Segundo Foucault,
Dentre as tarefas que definem o cuidado de si, há aquelas de tomar notas sobre si mesmo – que poderão ser relidas -, de escrever tratados e cartas aos amigos, para os ajudar, de conservar os seus cadernos a fim de reativar para si mesmos as verdades da qual precisaram (1994: 783).
A escrita era uma das “técnicas de si” que visavam a estética da existência, por meio das quais o indivíduo formulava questões fundamentais sobre seus dias e construia-se como cidadão livre e autônomo, objetivando uma vida bela. As hupomnêmatas citadas por Foucault eram cadernos de anotações onde se podia escrever a respeito de fatos e pensamentos importantes, ensinamentos e impressões que apoiassem nesse percurso da vida (2006: 147). Outro modo de constituir sua existência como um cidadão livre era a prática das correspondências, através da qual seformulava uma reflexão sobre si na relação com o outro. Nesse sentido, a Antiguidade não possuía o problema da verdade sobre si mesmo por meio da escrita, como posto a partir do século XVIII, mas o da constituição de uma vida temperante e exemplar, com o foco para a liberdade, o governo de si e o governo da polís.
Na atualidade, as autobiografias com enfoque ético e político muitas vezes questionam construções supostamente acabadas do indivíduo, não sendo formuladas mais como modo de marcar um espaço individualizado de si ou para contar histórias de êxito pessoal. Também é importante notar como a tradição autobiográfica possui conexão com um tipo de subjetividade masculina mais conservadora que formulava-se por homens e para homens e na qual as mulheres eram pouco incorporadas, ao menos até o século XX. Segundo Júlia Salmerón, mais do que os homens, as mulheres em suas autobiografias tendem a enfatizar detalhes domésticos e pessoais de suas vidas privadas, sendo na maioria das vezes histórias fragmentadas e irregulares, compostas por imagens de múltiplos papéis vividos (2006: 24). Tais produções parecem possuir um sentido mais próximo das “técnicas de si” - como constituição de uma existência bela (ética e estéticamente) - na medida em que explicitam o caráter moldável das identidades, do que de um projeto autobiográfico tido de antemão.
Debates sobre as diferenças entre a produção de mulheres e de homens incidem sobre a questão da experiência vivida e das respostas às preocupações e normas sociais. Virgínia Woolf havia mostrado contundentemente, em obra de 1928, a dificuldade enfrentada pelas mulheres que escrevem. Uma vida com poucos recursos financeiros, difícil acesso à educação e escasso incentivo social para a prática da literatura, afastava as mulheres do gabinete e da caneta tinteiro e marcava profundamente seu modo de escrita (WOOLF, s/d). Essas diferenças de produção nos falam, além das desigualdades culturais entre homens e mulheres, de como a relação com a escrita também se constituiu de maneiras variáveis ao longo da história.
No correr da história, a partir da década de 1970 e do impacto cultural do feminismo, não cessaram as discussões acerca da problemática de se haveria uma escrita especificamente feminina. Na medida em que a escrita e as artes em geral, eram historicamente impróprias às mulheres, não é raro encontrarmos produções de mulheres que, conscientes de tal subalteridade, de modo estratégico são capazes de representarem a si mesmas numa literatura menor e marginal. Se as relações de poder estabelecem e mantêm o falogocêntrismo também na produção artística, as mulheres artistas de algum modo parecem contradizer, subverter e transgredir a definição de si mesmas, na medida em que revertem a imagem silenciosa, passiva e subordinada do feminino.[1]
O pensamento pós-estruturalista e feminista concebe essas diferenças em termos de práticas culturais e ataca as concepções pautadas em determinismos biológicos, justamente por seu cárater arbitrário (RAGO, 1998). Não é raro que temas íntimos, domésticos e cotidianos surjam “tipicamente” em abordagens de mulheres, mas o que se propõe pensar perante a prática artística de mulheres – aqui ampliando o debate para as artes visuais - é o confronto crítico com tais imagens sociais. Suas obras aludem a referências femininas e inserem marcas dissonantes nos enunciados naturalizantes que ligam as mulheres à esfera doméstica, ao corpo e à casa. Descontróem o caráter conservador de compostos como o lar, potencializando tal espaço como proposta libertária. Elas, em seu modo de criação, propõem a feitura de uma escrita de si que foge à descrição heróica, que escolhe a experiência dinâmica da vida ao auto-retrato final de si. A partir de suas percepções de gênero, as artistas negociam, reagem e invertem fortemente os padrões estabelecidos do feminino e da identidade “Mulher”, constituindo imagens muito surpreendentes de si mesmas.
- Pintar a própria vida, estetizar a existência
A autobiografia comporta um desejo de lembrar - a mémoria, o passado - cruzado com um princípio de individuação, com as especificidades do eu que narra. Se no gênero literário ela propõe uma tentativa de unidade do ser, na medida em que através da escrita o sujeito elabora e ressignifica seu passado, atualmente, perante a veloz fragmentação subjetiva vivenciada nas sociedades ocidentais, a autobiografia transmuta-se em expressões de si mais agudas, estéticas e críticas.
Na produção de variados artistas modernos e contemporâneos, elementos e gestos autobiográficos compõem imagens artísticas. Aí não há um sentido primeiro de colocar a vida em narração, nem mesmo organizá-la segundo regras precisas. O problema colocado é outro.
Um aspecto bastante intrigante na produção artística consiste na capacidade de formulação de imagens que, numa dupla via, conectam-se e invadem as memórias individuais do espectador ao mesmo tempo em que descontróem a estabilidade de tais experiências, numa crítica política coletiva. Também aí as subjetividades mostram-se por uma multiplicidade, trazendo à tona além do gênero, marcas da colonização, das condições econômicas e materiais da vida. Formula-se, através de imagens artísticas, uma crítica ao sujeito branco, masculino e universal, onde elementos autobiográficos – típicos do individualismo ocidental – são revertidos e ressignificados, em nome da pluralidade e da intensificação das experiências vividas.
Julia Salmerón problematiza tais críticas quando aborda a autobiografia da escritora e pintora Leonora Carrington (Inglaterra, 1917). Expoente do surrealismo, Leonora, hoje com mais de 90 anos, vive e produz grande parte de sua obra no México. A artista nutre-se pela mitologia celta, pela arte do Renascimento, pelo ocultismo e pelo campo do subconsciente, aí destacado o papel de Carl Jung. Entrou, na década de 1930, em contato com o surrealismo francês, estando envolvida amorosamente com Max Ernst e sendo amiga de Picasso, Breton, Péret, entre outros. Viveu também na Espanha e em Portugal. Escreveu inúmeros contos surrealistas, além de produzir objetos, desenhos e pinturas. No México, país que recebeu vários surrealistas europeus, reencontrou a pintora Remedios Varo, com quem teve uma grande amizade e compartilhou a “busca estética e espiritual por conhecimento e liberdade de criação” (TELLES, 2007: 15).
Salmerón enfoca a autobiografia de Leonora intitulada Down Below, escrita e reescrita no início da década de 1940, período em que a artista passou em um manicômio em Santander, na Espanha e posteriormente na Embaixada Mexicana. O texto compreende um sentido curativo da escrita e também um forte trânsito entre o presente e o passado, entre a história pessoal e os totalitarismos de Estado vivenciados pela artista.
Salmerón indica como tal texto, no interstício da memória individual (fragmentada e brutal) e das experiências coletivas, é um documento que possui lucidez sobre os processos históricos, sobretudo sobre o horror da guerra. Leonora descreve profunda angústia com os acontecimentos, vivenciando uma ruptura com a realidade e entrando num colapso e numa “psicose de guerra”. Sofre no corpo e no espírito a devastação do pós-guerra, tratando a paisagem dilacerada da Espanha como o seu reino. Acreditava durante seus delírios (talvez numa tentativa obstinada de agir perante o terror) que poderia salvar Madri do franquismo e que essa era sua tarefa.
As associações que a artista cria entre a experiência vivida individualmente e a destruição das vidas no coletivo são tocantes e surpreendentes. Seu estupro pelos oficiais converte seu corpo no campo de batalha. Ela percebe a dor da violação sexual e mental como resultado da morte da razão dos robôs hipnotizados em que todos se converteram, pois “enfrentada a destruição da guerra, Leonora acusa os sistemas políticos e econômicos de prender as pessoas em ‘labirintos sem sentido’” (SALMERÓN, 2006: 163). Sua criação artística está sempre comprometida em relacionar a guerra e o fascismo ao patriarcado,
[...] em sua luta privada contra o conformismo, pais, médicos e ditadores personificam seu inimigo e também o inimigo da humanidade: eles são os que imobilizam ‘as engrenagens da maquinaria humana’, e os que têm ‘o mundo submetido na angústia, na guerra, na indigência, na ignorância (SALMERÓN, 2006: 164).
Leonora Carrington precisou fugir da família que tentava interná-la novamente num manicômio e separá-la de Ernst, conseguindo exilar-se no México no ano de 1942, com a ajuda do embaixador mexicano Renato Leduc, com quem esteve casada por um ano para conseguir a fuga. Não voltou a ver o pai, nem Ernst. Diz que não teve tempo de se enfurecer de verdade com eles, pois sentia que precisava pintar e isso era o mais urgente.
A artista é autora de uma rica produção em que confronta definições autoritárias e onde usa sua imaginação como meio de contestar o status quo que oprime, sobretudo, às mulheres. Em sua biografia, a construção da obra e da vida possui intensa conexão. A artista molda-se por meio da escrita e da pintura, elabora sua experiência e nos torna sensíveis à indefinição das identidades. Não teme atravessar fronteiras entre a razão e a desrazão, entre a mente e as emoções, entre a realidade e o devaneio.

Leonora Carrington, Auto-retrato (o albergue do cavalo da aurora), 1938.
Na tela de 1938, Auto-retrato (O albergue do cavalo da aurora), Carrington pinta a si mesma em um quarto em meio a animais selvagens - uma hiena com as tetas cheias de leite, um cavalo branco que corre livremente ao fundo. A figura de mulher está sentada numa poltrona vitoriana, cujos pés mimetizaram as botas de montaria que ela veste. Ela mesma possui os cabelos tão volumosos que são como a crina de um corcel. Norma Telles destaca como essa confluência fantástica é criada entre o mundo animal e humano, entre o universo onírico dos sonhos infantis – o cavalinho de pau que voa na parede – e a “imensidão íntima” projetada na paisagem que vemos pela janela.[2]
A figura olha a hiena e pressente o corcel correndo lá fora. O cavalinho de pau deixado de lado, a infância emoldurada e sombreada, é também o sacrifício do cavalo. Opera-se assim uma desconstrução pois em mitos ou nas praças, o cavalo é montaria de heróis, conquistadores, imperadores, salvadores. A delicadeza, a gentileza e o mistério do animal só podem ser percebidos quando o sacrifício do cavalo, diz Hillman, o livra do peso heróico e marcial. Livre do peso cultural, o animal pode figurar a antiga deusa celta, Epona ou o sentido que lhe dava a alquimia, que usava seu ventre do cavalo como signo de calor interior para a digestão de eventos, de incubação. O outro animal na tela assinala não haver mais inocência infantil, pois a hiena, animal carniceiro que é, sempre foi mal vista no bestiário europeu (TELLES, 2007: 16).
Telles mostra como a referência à hiena, “animal da noite”, transporta a imaginação às forças ocultas da vida e da morte. A hiena devora a carne, metamorfoseando-se continuamente. Leonora parece constituir-se também nessas imagens transformadoras, pulsantes e vivas de si mesma. A pesquisadora, a respeito de Leonora e também de Remedios Varo indica que ambas “tiveram destinos marcados, desde a infância, por viagens reais e imaginárias” (TELLES, 2007: 16).
Passados os primeiros anos mais difíceis de adaptação no México, juntas, as artistas divertiam-se fazendo investigações semi-científicas, utilizando a cozinha como laboratório, inventando receitas que prometiam resultados mágicos, como conselhos para “aumentar os desertos de areia movediça embaixo da cama”, ou para “estimular o sonho de ser o rei da Inglaterra” (KAPLAN, 2007: 95). Insubmissas e irônicas, as belas artistas gostavam muito das brincadeiras que traziam sempre consigo uma crítica e uma ressignificação das práticas culturais.
Utilizando semelhantes culinários como metáforas para suas atividades herméticas, estabeleceram uma espécie de relação entre os papéis tradicionais da mulher e certos atos mágicos de transformação. Às duas interessava há bastante tempo o ocultismo, interesse que se via estimulado pela crença surrealista na “ocultação do maravilhoso”, e por haver lido muito sobre bruxaria, alquimia, feitiçaria, magia e a arte de jogar as cartas (KAPLAN, 2007: 96).
Esse território surrealista mágico permitia às artistas imaginarem outros mundos possíveis, explorar a própria psique por meio de viagens espirituais, investigadas em inúmeras obras. Nesses trânsitos entre o cotidiano vivido e as fantasias artísticas, constituíam a si mesmas integrando dimensões profundas da existência.
Remedios Varo nasceu na Catalunha, em 1908 e faleceu no ano de 1963, no México. Pintou abundantemente, sempre incorporando irreverência, críticas sociais e grande sensibilidade à experiência feminina em suas telas. A maioria de suas personagens tem um delicado rosto e olhos amendoados que caracterizavam o semblante da própria artista, “são como auto-retratos, mas transformados pela fantasia” (KAPLAN, 2007: 9). Para a estudiosa Janet Kaplan, há tanto de autobiográfico em sua produção – mesmo que Varo não considerasse esse um aspecto importante – que é essencial explorar a intersecção entre sua vida e sua arte.
Não é que a obra somente possa ser compreendida pela vida do artista, mas esses elementos intensificam a apreciação, na medida em que nutrem o olhar do espectador. É certo que sempre há na produção artística as expressões pessoais, vontades e particularidades do artista – mesmo quando não existe uma vontade autobiográfica. O que se destaca aqui, diferentemente, é o desejo de constituir-se livre e esteticamente presente na produção de artistas como Carrington e Varo. Elas deslocam-se das determinações sociais, ironizam as dicotomias da cultura e moldam a si mesmas no processo de criação artística.
Acerca da crítica à domesticidade, Kaplan indica que Remedios Varo produziu variadas imagens que problematizam a complexidade dessas convenções sociais, sobretudo os efeitos da violência sobre as mulheres. Em Mimetismo, um óleo de 1960, vê-se uma mulher ao centro do quadro, sentada em uma poltrona, cujo tecido está reproduzido no rosto da personagem: sua pele tomou a coloração do tecido. Também é interessante notar como a composição assemelha-se ao Auto-retrato de Leonora Carrington, sobretudo no ângulo do quarto, nas figuras femininas, na relação com a poltrona e até mesmo no fundo da tela, entre o armário que contém nuvens e sonhos e a janela, espaço aberto para o devaneio da artista.
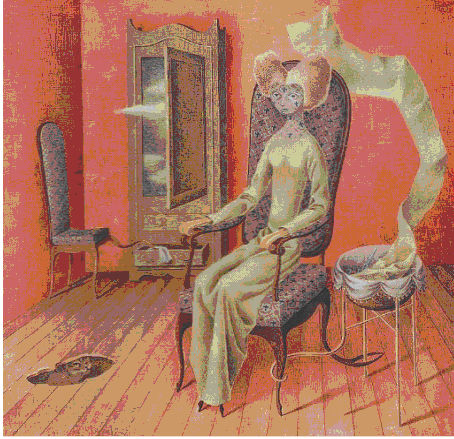
Remedios Varo, Mimetismo, 1960.
Na tela de Varo, a mulher está imobilizada, mimetizando-se no móvel: suas mãos tomaram a forma do apoio de madeira e seus pés transformaram-se em pés da poltrona. Encontra-se rodeada de móveis antropomórficos que estão abrindo gavetas, movendo-se no espaço. A pintora descreve essa inversão onde a mulher está paralisada e isolada, enquanto os objetos inanimados ganham vida.
[...] Essa senhora ficou tanto tempo pensativa e imóvel que está se transformando em poltrona, a carne se colocou igual ao tecido da poltrona e as mãos e pés já são de madeira torneada, os móveis se aborrecem e a poltrona morde a mesa, a cadeira de fundo investiga o que há na gaveta, o gato que saiu para caçar, toma um susto e assombra-se ao voltar quando vê a transformação (KAPLAN, 2007: 159).
Kaplan indica como o humor convive na imagem com o desespero pela profunda apatia experimentada pela mulher. Mesmo que Varo fosse uma pessoa independente e que sempre trabalhou para ganhar a vida, está sensível ao fato de mulheres ficarem presas ao mundo doméstico.
Em Papinha estelar, de 1958, há novamente uma conjunção simbólica que aborda a difícil conexão entre o feminino e a maternidade. Vê-se uma figura feminina, sentada solitariamente numa torre, um frontispício que flutua por entre as nuvens. Ela tritura uma substância que desce dos céus - matéria estelar, preparando uma papinha que serve de alimento a uma lua que está presa dentro de uma gaiola de passarinho. Kaplan comenta que a prisão é também dessa mulher, isolada no universo “ao adotar o papel tradicional da mãe, o que representa é o ritual maternal atemporal, e alimenta a lua como se fosse seu filho – mas um filho enjaulado” (2007: 160).
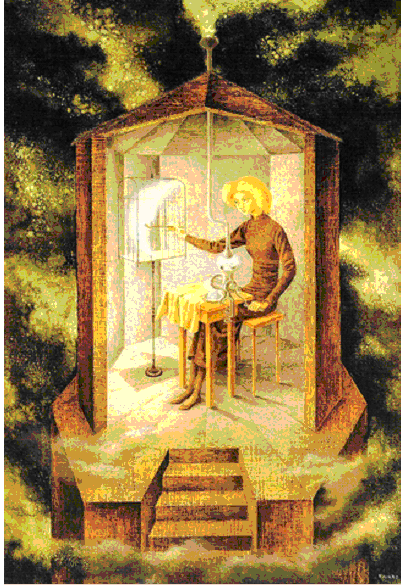
Remedios Varo, Papinha estelar, 1958.
De grande beleza e precisão, as imagens de Varo comovem por sua delicada maneira de dizer sobre os afetos e experiências vividas. O feminismo em muito se dedicou a mostrar como o cuidado com os filhos e com a casa mantinha a mulher numa submissa condição cultural, de esterilidade criativa. Varo comenta sobre essa obra, “soube então que estava falando de mim e de minha cozinha, e de meus filhos lunares e das estrelas que eu trituro” (VARO apud KAPLAN, 2007: 160). Uma obra de arte não é simplesmente uma representação metafórica do cotidiano, ela possui a capacidade de nos invadir com a multiplicidade das experiências. Papinha lunar aborda um sentido ambíguo do cuidado e amor com um filho que está imobilizado. Torna sensível esse conflito afetivo, atualizando uma crítica dos deveres incontestados, produtores de uma melancolia que habita, muitas vezes, a constituição das subjetividades femininas.
- Gestos autobiográficos nas artes: resquícios de intimidade habitam o museu
Variadas mulheres artistas contemporâneas também jogam e performatizam com elementos biográficos. Utilizam na feitura de suas obras objetos historicamente de uso feminino, como agulhas, fios, tecidos, etc., transformando o sentido impresso nos mesmos. Quando apropriados artisticamente, esses elementos da vivência individual tensionam com as memórias emblemáticas, com a história e com a cultura atual. Não podemos exigir deles um sentido de veracidade ou autenticidade, já que no mais das vezes, a arte não responde a essas preocupações. Evocam memórias trazidas a público que não tem o sentido de explicar linearmente o porquê da produção de determinada obra.
Esse uso de elementos autobiográficos, segundo Arfuch, remete a um movimento contemporâneo de exposição do privado, também visto em outras esferas sociais, mas aí de modo reativo, como na mídia. Se o mundo íntimo, para essa pensadora, em muito sofre de uma hipervisibilidade, trata-se de uma reação a grande fragmentação e destroçamento da esfera pública.
Se uma autobiografia tradicional pode elencar alguns segredos sexuais em tom confessional, em obras como da artista inglesa Tracey Emin (1963), os limites entre o público e o privado são testados. Na obra My bed, de 1998, ela apresenta exposta na galeria sua própria cama desarrumada, cercada de marcas e impressões vividas. Os lençóis estão usados, há ao redor da cama roupas amassadas, preservativos usados, restos de comida, de bebida alcólica e bitucas de cigarro. Indícios de noites permeadas por sexo, drogas e insônia. Também existe uma organização muito precisa dessa “desordem”, uma composição que conjuga objetos de modo planejado, como um animalzinho de pelúcia, pantufas, livros – todos dispostos no chão, próximos à cama, ao acesso da mão. A cama é muito limpa, os lençóis brancos, mesmo desarrumados, são aconchegantes e convidativos.
Diz-se que Emin reproduziu o quarto onde passou quatro dias reclusa em meio a confusão emocional e pensamentos suicidas. A obra foi recebida com estranhamento por apresentar os objetos de uso próprio da artista, ressignificá-los e expô-los como arte de modo irônico e intempestivo. Arfuch aborda o tema do uso de objetos comuns na arte contemporânea:
Los objetos cotidianos, en su más cruda materialidad, también pueblan los espacios de las artes visuales, generalmente en el marco de una instalación y en una sintaxis narrativa que los distingue del ready made: no remiten a sí mismos, como gestos provocativos que adquieren su valor por su localización “fuera de lugar” en el museo sino en un contexto significante que (re)define semánticamente ese lugar (2005: 268).
Nesse sentido, a instalação de Tracey Emin aborda a vida mesma, suas obsessões, a repetiva rotina, sua intimidade como elemento artístico. O corpo da artista está presente na cama através de sua ausência; ele existe na experiência do espectador perante a obra. Arfuch, a respeito da obra de Emin comenta:
Para seguir el objeto más recóndito de la privacidad, My Bed de Tracey Emin (...) funcionaría como un “autorretrato” reactivo y escandaloso – al tiempo que totalmente “desindividualizado” - , que desacraliza violentamente la intimidad en su inequívoca cercanía con la sexualidad, tanto como quizá denuncia con ironía el creciente – y a menudo irrelevante – carácter público/terapéutico que ésta asume (2005: 270).
A cama é lugar poético do sono (dos sonhos, dos devaneios, do inconsciente), do sexo (prazer, fluidos, temperaturas), da doença (vírus, bactérias, rendição); carrega marcas do corpo e da vida fora do mundo público, fora das normas sociais. Emin explora dimensões da vida humanamente compartilhadas a partir de uma imagem que no cotidiano seria tida como “confessional” porque carrega detalhes íntimos, criando sensações destoantes. Não é uma cama de conto de fadas, nem mesmo evoca bons sonhos ou romantismo. Estaria mais ao lado da insônia, de um corpo agitado, afetado por forças estranhas – uma incômoda vigília.
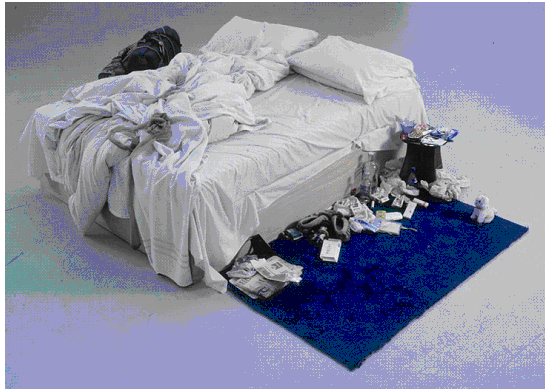
Tracey Emin, My bed, 1998.
Qual a intenção autobiográfica que aí se apresenta? Parece estar relacionada à explicitação da intimidade, do privado, colocando-se em questão a própria viabilidade de crermos num projeto artístico contemporâneo que se pretenda afastado das inquietações e tensões cotidianas. Emin apresenta a sua própria cama como arte, transformando sua vida - seu espaço pessoal, numa zona intensa e estética. Ela revela imperfeição e insegurança, colapso e o movimento caótico das emoções, mostrando-se cruamente humana. A artista comenta sobre a obra “é um auto-retrato, mas não o que as pessoas gostariam de ver. Guarda um peso terrível de solidão e de mal estar. Brilha como a cena de um crime” (EMIN apud ARFUCH, 2005: 270).
Contrária à lógica empobrecedora dos “reality shows”, que incita o voyeurismo banal, há uma ação política e estética presente em artistas contemporâneas como Tracey Emin, e também em brasileiras como Ana Miguel e Rosana Paulino, que em suas obras conjugam o biográfico ao mundo público. Interessa-me essa confluência onde a arte, pública por definição, utiliza-se da intimidade como recurso afetivo, promovendo uma experiência intensiva, em que ocorre um deslocamento na política dominante (do corpo recalcado, do desejo velado, da memória silenciada, etc.) e a capacidade sensível ganha espaço. O que está em jogo é uma transformação na política de subjetivação vigente, onde a arte coloca em evidência o processo constante de criação de si. Não se conta sua própria história por temor a perdê-la. Na arte, os elementos biográficos misturam-se aos ficcionais, porque não interessa a disputa pelo real. Os elementos íntimos são expostos, parece-me, em um sentido singular, o de reinventar a si e ao mundo. A poética autobiográfica de mulheres permite-se transitar por elementos femininos, íntimos, da casa, do corpo, parecendo afrontar silenciosamente uma lógica empobrecedora, em que o fluir dos perceptos e afectos foi rompido.[3]
A dolorosa realidade do racismo é abordada em variadas obras pela artista brasileira Rosana Paulino (1967). A artista é gravurista, desenhista, escultora, formada pela ECA – Usp e atualmente desenvolve um doutorado em Poéticas Visuais na mesma universidade. Sendo negra, tendo tido ainda na infância a experiência da pobreza, do racismo e do sexismo, Rosana mergulha nessa matéria subjetiva dos traumas em muitos de seus trabalhos. A artista destoa de uma abordagem da vitimização e muitas vezes, sua poética converge para um “eu-feminino” valente e estóico, que experimenta no corpo as transformações do tempo e que carrega a capacidade de regenerar-se. Em obras como As tecelãs, de 2003, figuras femininas metamorfoseadas nascem de casulos de barro e povoam paredes. São tecelãs de seus próprios corpos, mulheres-insetos – dois seres estranhos, conectados na poética visual de Rosana. Os corpos de suas figuras posicionam-se como lagartas, esforçando-se em curvaturas que remetem a um movimento vital de liberação. Mulheres que se distendem como larvas, em colônias estruturadas, protegendo-se mutuamente, num campo de ligações entre a psique feminina e o mundo dos insetos. Segundo a artista,

Rosana Paulino, Tecelãs, 2003.
É lendária a associação da mulher com alguns tipos de insetos (borda como uma aranha, obreira como uma abelha, delicada como uma borboleta, etc.) e tal associação avança desde a mitologia grega até a arte contemporânea. Quantas vezes, por exemplo, tecemos verdadeiros casulos em torno de nossos desejos e necessidades, nos encasulamos para nos protegermos do mundo?[4]
A artista torna sensíveis essas conexões, tornando mais claros os modos de constituição das subjetividades femininas. Ao criar “devires-insetos”, corpos delirantes feitos de fios e de barro, Rosana compõe imagens que nos afetam. Um “devir-animal”, para Deleuze e Guatarri, não é tornar-se outro ser como um inseto ou considerar essas associações apenas na ordem da imaginação. O devir é real e da ordem das alianças. Mulher e inseto: relações não-evolutivas (DELEUZE e GUATARRI, 1997: 19). Estamos lidando com o heterogêneo, com relações que não são de filiação, mas de multiplicidade, de contágio e expansão, “que lhe dão o incrível sentimento de uma Natureza desconhecida – o afecto” (DELEUZE e GUATARRI, 1997: 21). A arte é atravessada por esses estranhos devires,
Pois o afecto não é um sentimento pessoal, tampouco uma característica, ele é a efetuação de uma potência de matilha, que subleva e faz vacilar o eu. Quem não conheceu a violência dessas seqüências animais, que o arrancam da humanidade, mesmo que por um instante, e fazem-no esgaravatar seu pão como um roedor ou lhe dão os olhos amarelos de um felino? Terrível involução que nos chama em direção a devires inauditos. Não são regressões, ainda que fragmentos de regressão e seqüências de regressão juntem-se a eles (DELEUZE e GUATARRI, 1997: 21).
Na filosofia deleuziana, quando esta se cruza com Espinosa, um dos pontos de maior importância ética é a identificação de quais são as idéias adequadas e as afecções ativas que estimulam a potencia de agir e de compreender nos indivíduos.[5] Nas palavras de Deleuze e Guatarri, deve-se atentar àquilo que cria “um bom encontro” que convém ao corpo e que impele à ação.
A cada relação de movimento e repouso, de velocidade e lentidão, que agrupa uma infinidade de partes, corresponde um grau de potência. Às relações que compõem um indivíduo, que o decompõem ou o modificam, correspondem intensidades que o afetam, aumentando ou diminuindo sua potência de agir, vindo das partes exteriores ou de suas próprias partes. Os afectos são devires (1997: 42).
A força das imagens de Rosana Paulino parece derivar dessas associações recorrentes na cultura (mulheres e insetos), mas que a partir de sua intervenção são desnaturalizadas, ao mesmo tempo em que aumentam a compreensão sobre a experiência da opressão e da luta pelo desprendimento dessas amarras. São metamorfoses, como nas palavras de Rosi Braidotti, que estão dirigidas a desligar o sujeito “do marco de referência tradicional ao que foi confinado no regime falocêntrico” (2005: 156).
Desse modo, suas imagens discutem a “ideologia da domesticidade”, que define a mulher como indivíduo abnegado, voltado para o lar e definido pelo papel da maternidade, emergente no século XIX, mas ainda presente no início do XXI. Através da ressignificação de práticas comuns entre as mulheres, como, por exemplo, o costurar, o tecer, o bordar, Rosana abre zonas de reflexão sobre as práticas violentas que permeiam as vivências femininas.
Na obra Bastidores, de 1990, a artista formula uma instalação em que bastidores de costura, utilizados para bordado, sustentam um tecido de algodão branco onde se imprimiu fotografias em preto e branco de mulheres negras. Nesse suporte, Rosana faz intencionalmente um bordado grosseiro sobre as bocas ou os olhos dessas figuras. A mãe da artista trabalhou como costureira na periferia de São Paulo e que em sua infância Rosana conviveu com essa prática. A artista discute a construção da subjetividade da mulher negra em muitas de suas obras, focando como é na intimidade que as práticas de submissão forjam-se e mantêm-se. O elemento biográfico aqui se cruza com imagens e memórias coletivas sobre a relação das mulheres no espaço doméstico, por vezes permeada de silêncio e humilhação subjetiva. O problema do preconceito racial e sexual é enfrentado por Rosana Paulino, que o aborda em sua dor e crueldade, como um meio de intervir nas práticas estabelecidas, sensivelmente usando a arte para abrir outros caminhos de constituição de si que sejam compostos por relações de liberdade e não de resignação.
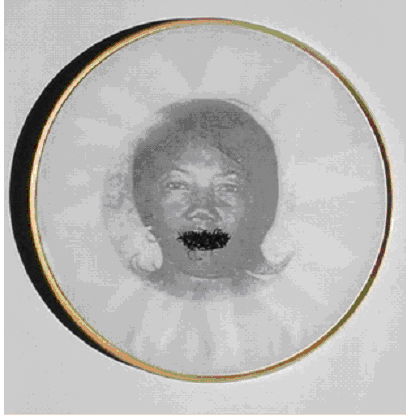
Rosana Paulino, Bastidores, 1990.
A obra nos faz pensar na brutalidade e interdição vivenciadas nos bastidores, naquilo que tem lugar no espaço íntimo e privado, onde ainda mais fortemente há a manutenção de práticas misóginas. Rosana nos defronta com a perpetuação de tais violências simbólicas, como o silenciamento, identificando os mecanismos profundamente arraigaidos que as sustentam.
Arfuch explicita que a verdadeira subversão da intimidade provém dos questionamentos feministas ao longo do último século que questionam a clássica divisão entre espaço público e privado, a domesticidade como espaço “feminino” por natureza, desfazendo as bases das divisões binárias.
La intimidad no será ya entonces aquel espacio canonizado del pensar, sentir, obrar “como una mujer” sino el enigma a interrogar acerca de las maneras, las modulaciones, las intensidades de una construcción cultural de siglos que ha producido “un efecto-mujer” (2005: 276).
Um efeito-mulher está complexamente trabalhado nessas obras artísticas que agregam imagens do lar, da proteção, da maternidade, cruzadas com a experiência do espaço íntimo. Na medida em que as memórias femininas são fortemente ligadas à experiência da privacidade, a arte contemporânea discute essas relações de definição subjetiva, imprimindo sensações mais críticas e liberadoras a tais marcas culturais. As figuras míticas criadas por Rosana remetem não à tradição passificadora das forças femininas, mas a devires, desterritorializações e desestabilizações identitárias. Seus bastidores carregam a força das denúncias sociais, revigorando o princípio solidamente defendido pelo movimento feminista, já na década de 1970, que explicitava que o pessoal é político. As relações entre espaço público e privado são aí repensadas e as divisões estanques desmontam-se, apontando como os binarismos sustentam relações de poder e de saber, ainda hoje.
Ana Miguel (1962) é uma artista que percorre variados processos de criação. É gravurista, desenhista, pintora e escultora, também formada em Antropologia e em Filosofia Contemporânea. Sua poética está profundamente ligada à problematização das subjetividades na atualidade, sobretudo a feminina.
Em variadas obras, Ana utiliza os recursos do crochê - cria objetos tentaculares, teias de aranha diminutas e gigantescas, fios embaralhados que ligam palavras e livros. Em Ela, de 2003, o crochê de aspecto macio e confortável recobre uma caixa que oculta o vídeo de uma boca sedutora e intrigante. Em A construção de um deserto, de 2002, essas caixas de crochê guardam objetos diversos como contas, linhas, dados, agulhas, pedaços de cerâmica, etc. São espécies de relicários repletos de intensidades que aludem a fragmentação da mémoria e os espaços da intimidade e do corpo.

Ana Miguel, A construção de um deserto, 2002. Detalhes do interior da casinha.
Na performance Ninhohumano, Ana Miguel e Claudia Hersz ocupam esteticamente uma frondosa Figueira, no Aterro do Flamengo no Rio de Janeiro. A obra é vencedora do prêmio Interferências Urbanas, Rio de Janeiro, em 2008. Compõem uma morada, um ninho, com objetos usados e descartados em brechós e feiras livres, transformando aquele espaço fronteiriço entre o urbano e o natural. São espelhinhos, objetos de decoração, quadros, vassouras, sobretudo em tons róseos e quentes, encrustrados entre os galhos - o que evoca uma casa na árvore fantasticamente construída. Ana e Claudia também vestem na ocasião da performance roupas bem bonitas e cor-de-rosa, e tomam chá tranquilamente, sentadas no ninho humano. É Gaston Bachelard quem investiga a potência poética da imagem do ninho: “A árvore é um ninho desde que um grande sonhador nela se esconda” (2008: 109).

Estudo em desenho para a performance Ninhohumano, 2008.
Nessa zona limite entre o jardim público e a imagem privada do abrigo, a obra discute as divisões entre a intimidade e os espaços sociais. Confronta essa separação já que põe o próprio corpo em questão. O corpo, sendo suporte para a performance, também desloca-se nessa experiência subjetiva, do público e do privado. Na dimensão aqui abordada, a atuação crítica e ética no espaço da cidade é um modo de constituição de si, de forjar a vida em relações não hierárquicas ou conservadoras. Isso porque num mundo em que se ilusiona ter tudo (falemos do acesso ao conforto e luxo possível no capitalismo atual), Ana e Claudia parecem pausar esse turbilhão e investir numa força de criação que habita os corpos.
Contam as artistas de sua inspiração para a ocupação estética da árvore em ninho: estavam caminhando certo dia pelo jardim do aterro quando o filho de Claúdia apontou para a copa da árvore, “deve ter uma pessoa morando lá em cima!”. Viram que objetos de uso pessoal estavam guardados na árvore e que algum mendigo deveria estar tomando-a como sua casa transitória. O ninho do pássaro-homem. Decidiram então criar a performance, fazendo estremecer muitas linhas de sentido. Nas palavras das artistas,
O Aterro do Flamengo é um grande vestígio do Modernismo brasileiro - nosso projeto utópico de um mundo racionalmente ordenado. Passeando em seus elegantes jardins, encontramos um ninho humano, arquitetura paradoxal inserida nesse entorno. (...) Foi construído por um humano em sua errância no mundo, como um pássaro em busca de alguma proteção. (...) Onde já existe uma ação na fronteira da cultura com a natureza, aí projetamos nossa interferência estético-afetiva. A intervenção deseja acrescer - pensar e destacar diversas camadas de sentido do objeto «ninho humano», refletindo e problematizando com afeto e humor a relação natureza/cultura.[6]
As imagens do ninho como casa, proteção e abrigo, inserem uma afetividade muito supreendente na percepção da intimidade. É sem dúvida frutífera a associação entre Ninhohumano e os Parangolés de Hélio Oiticica. Nessas obras, o artista radicalizou a aproximação entre vida/arte ao criar capas coloridas feitas para serem vestidas e dançadas. A cor e o movimento tornavam o corpo uma obra de arte. Oiticica inspirou-se no barraco de um mendigo, que coloridamente ordenava tecidos como numa tenda e que colocou na entrada de sua morada uma placa que anunciava “Parangolé” (CARNEIRO, 2004: 264).
Em Ninhumano, o artista é também o suporte material da obra e a dicotomia obra/artista continuamente se dissolve. O gesto e a ação no espaço da cidade criam inúmeras sensações de deslocamento subjetivo ao espectador/passante. Aqui, já não existe mais um desejo de contar a vida autobiograficamente (nos moldes tradicionais da busca pela verdade de si), mas, como diz Bachelard, de nos tornar “sensíveis aos poderes dos diversos refúgios”, da própria casa ao mundo (2008: 103). As artistas aqui vivem em seus corpos o habitar esse ninho - efêmero acontecimento, ato poético em que os suportes perdem gradativamente a importância. A intimidade exposta em Ninhohumano faz pensar nos limites sociais e culturais da privacidade, contrastada com o desejo psíquico, emocional e corpóreo do abrigo.
O Ninhohumano conecta-se diferentemente com um refúgio de simplicidade que potencializa a experiência vivida. Para Bachelard, ninhos são “imagens que despertam em nós uma primitividade” (2008: 104). Ana Miguel e Cláudia Hersz, nessa performance, abrem espaço para vivenciarmos a vulnerabilidade dos corpos (o animal que habita árvores), os desejos profundos de proteção, além das críticas sociais às desigualdades e incoerências do espaço urbano-industrial. Esse potencial da obra de nos tocar delicadamente parece remeter a origem de nossos sonhos, quando, segundo Bachelard, não se conhece ainda a gravidade do mundo:
A vida começa para o homem com um sono tranquilo e todos os ovos dos ninhos são bem chocados. A experiência da hostilidade do mundo – e consequentemente nossos sonhos de defesa e de agressividade – são posteriores. Em seu germe, toda a vida é bem-estar. O ser começa pelo bem-estar. Em sua contemplação do ninho, o filósofo tranquiliza-se seguindo uma meditação de seu ser no ser tranquilo do mundo. Traduzindo então na linguagem dos metafísicos de hoje a absoluta ingenuidade de seu devaneio, o sonhador pode dizer: o mundo é o ninho do homem (2008: 115-116).
- Redefinições
A busca por redefinições marca fortemente as artistas aqui abordadas. Pretendi mostrar como, a partir de sua imaginação criadora, essas mulheres fazem nascer mundos alternativos, realistas ou fantásticos, em que variadas relações de poder são questionadas. Pensando a construção da subjetividade feminina, dialogam com críticas feministas atuais, como o nomadismo identitário e a ironia perante categorias fixas e hierárquicas (BRAIDOTTI, 2000).
A arte desfaz sentidos de práticas culturais naturalizadas, desconstrói imagens estáticas dos gêneros e convida à uma maior percepção da constituição de si. Para Foucault, é preciso pensar em outros modos para tal tarefa, certamente mais libertários e criativos. O espaço biográfico, em que se criam linhas de sentido para a existência, em muito é composto por imagens poéticas propostas pela arte. A autobiografia, campo atravessado por forças diversas como o desejo de enobrecimento, na produção contemporânea de mulheres parece ganhar novos contornos. Desfaz-se a ilusão de uma construção completa de sentidos sobre o eu, assume-se a transitoriedade das experiências, valoriza-se a transformação e o dinamismo próprio das subjetividades, num caminho de elaboração do vivido.
A casa e o corpo vibram em outro tom. O privado não mais como o lugar da opressão feminina, o corpo como potência criativa e espaço de ativação da memória. São inúmeros os desdobramentos dessa temática, e estas breves considerações parecem-me política e éticamente relevantes em nosso tempo.
nota biográfica
Luana Saturnino Tvardovskas é doutoranda em História Cultural pela Universidade Estadual de Campinas e pesquisa o tema “Dramatização dos corpos: arte contemporânea de mulheres no Brasil e América Latina” (bolsista FAPESP), sob orientação da Drª Margareth Rago. Autora da dissertação de mestrado Figurações Feministas na Arte Contemporânea: Márcia X., Fernanda Magalhães e Rosângela Rennó (Unicamp/Campinas, 2008) e de artigos sobre mulheres artistas na contemporaneidade como “Rosários e vibradores: interferências feministas na arte contemporânea”. In: Subjetividades antigas e modernas. RAGO, Margareth e FUNARI, Pedro P. (orgs.). São Paulo: Annablume, 2008.
Referênicas bibliográficas
ARFUCH, Leonor. “Cronotopías de la intimidad”. In. Pensar este tiempo – espacios, afectos, pertenencias. Buenos Aires: Paidós, 2005.
____________ “O espaço biográfico na (re)configuração da subjetividade contemporânea”. In. GALLE, H.; OLMOS, A. C.; KANZEPOLSKY,A. Em primeira
pessoa. Abordagens de um teoria da autobiografia.São Paulo: Annablume; Fapesp;
FFLCH, USP, 2009.
BACHELARD. A poética do espaço. São Paulo: Martins Fontes, 2008.
BRAIDOTTI, Rosi. Sujetos Nómades. Barcelona: Paidós, 2000.
____________ Metamorfosis, hacia uma teoria materialista del devenir. Madri: Akal, 2005.
CARNEIRO, Beatriz. Relâmpagos com claror – Lygia Clark e Hélio Oiticica, vida como arte. São Paulo: Editora Imaginário/Fapesp, 2004.
DELEUZE, Gilles. Francis Bacon. Lógica da Sensação. Rio de Janeiro: Zahar, 2007.
DELEUZE, Gilles e GUATARRI, Félix. Mil Platôs – capitalismo e esquizofrenia. Vol 1. São Paulo: Editora 34, 1995.
____________ Mil Platôs – capitalismo e esquizofrenia, vol 4. Rio de Janeiro: Editora 34, 1997.
____________ O que é a filosofia? Rio de Janeiro: Editora 34, 2009.
FOUCAULT, Michel. “A escrita de si”. In. Ditos e Escritos V – Ética, Sexualidade e Política. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006, pp. 144-162.
____________ “Técnicas de si”. In. Dits et écrits. Paris: Gallimard, 1994, Vol. IV, pp. 783-813.
GUATARRI, Félix e ROLNIK, Suely. Cartografia Sentimental – Transformações contemporâneas do desejo. São Paulo: Editora Estação Liberdade, 1989.
KAPLAN, Janet A. Viajes Inesperados: El arte y la vida de Remedios Varo. México: Ediciones Era, 2007.
MACHADO, Roberto. Deleuze, a arte e a filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2009.
MIRAUX, Jean-Philippe. La autobiografia: las escrituras del yo. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión. 2005.
RAGO, Margareth. “Os feminismos no Brasil: dos ‘anos de chumbo’ à era global”. In. Revista online Labrys – Estudos feministas, Número 3, janeiro – julho de 2003.
____________ “Dizer sim à existência”. In. RAGO e VEIGA-NETO (orgs.) Para uma vida não-fascista. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2009.
____________ “Epistemologia feminista, gênero e história”. In. Pedro, Joana e Grossi, Miriam (orgs.), Masculino, feminino, plural. Florianópolis: Editora Mulheres, 1998.
SALMERÓN, Julia. “Las memorias políticas de Leonora Carrington: Down Below”. In. SALMERÓN e ZAMORANO, Ana (coords.). Cartografías del yo: escrituras autobiográficas en la literatura de mujeres en lengua inglesa. Buenos Aires: Editorial Complutense, 2006.
TELLES, Norma. Belas e Feras. São Paulo: Nat Editorial, 2007.
____________ “Fios comuns”, mimeo, 2009.
WOOLF, Virgínia. Um teto todo seu. São Paulo: Círculo do Livro, s/d.
[1] Destaco algumas autoras importantes para esse debate como Virginia Woolf, Elaine Showalter, Sandra Gilbert e Susan Gubar, Julia Kristeva, Luce Irigaray, Hélène Cixous e Judith Butler.
[2] Bachelard indica que “a contemplação da grandeza determina uma atitude tão especial, um estado de alma tão particular que o devaneio coloca o sonhador fora do mundo próximo, diante de um mundo que traz o signo do infinito” (2008: 189).
[3] Deleuze e Guatarri mostram que uma obra de arte é um ser de sensação cujo objetivo é “arrancar o percepto das percepções do objeto e dos estados de um sujeito percipiente, arrancar o afecto das afecções, como passagem de um estado a outro”. Para os pensadores “trata-se sempre de liberar a vida lá onde ela é prisioneira, ou de tentar fazê-lo num combate incerto” (2009: 217-222).
[4] Texto de Franklin Espath Pedroso, disponível na página web da Galeria Virgílio. Abril de 2006.
[5] Segundo Roberto Machado “a afecção é o estado de um corpo quando ele sofre a ação de outro corpo, é uma ‘mistura de corpos’ em que um corpo age sobre outro e esse recebe as relações características do primeiro” (2009: 74).
[6] Texto descritivo da obra, retirado do blog da artista Claudia Hersz. Disponível em http://www.fotolog.com.br/claudiahersz/53665682 acessado em 28/12/2009.
![]()
labrys, études
féministes/ estudos feministas
janvier/juin 2010 -janeiro/junho 2010